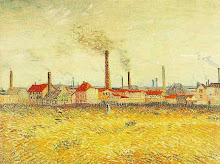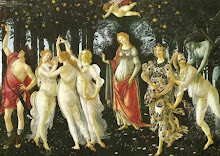Um homem "made in Switzerland": Paul Klee
Paul Klee permaneceu cidadão alemão até a sua morte, mesmo sendo completamente "made in Switzerland".
Ele nasceu e cresceu no cantão de Berna, na Suíça, para onde retornou assim que o regime nazista assumiu o poder e o proibiu de exercer o cargo de professor catedrático na Alemanha.
Klee nasceu a 18 de dezembro de 1879 em Münchenbuchsee, na região de Berna. Sua mãe, Ida Frick, era suíça, e seu pai, Hans Klee, era alemão. Paul tinha uma irmã três anos mais velha do que ele. Como filho de pai alemão, sua nacionalidade permaneceu alemã.
Artista precoce
Reza a lenda que sua avó materna, suíça, foi quem o encaminhou às artes ao lhe dar de presente, aos três anos de idade, papel e lápis de cor. O próprio Klee afirmaria mais tarde que a sua viagem pelo mundo das artes começou nos seus primeiros anos de vida. Ele chegou a catalogar alguns desenhos da sua infância entre as suas obras.
O jovem Klee observava atentamente o mundo ao seu redor, pintava paisagens bernenses e carregava consigo um caderno de rascunhos quando ia visitar parentes ou quando viajava com seu pai pela Suíça.
Quando não estava desenhando, tocando violino ou escrevendo poemas, Klee freqüentava o ginásio no centro da cidade de Berna. Longe de ser um aluno exemplar, Klee passou nos exames finais, em 1898, com a nota mínima.
Mais tarde, escreveria em seu diário: "Eu queria abandonar os estudos no penúltimo ano, mas meus pais não permitiram. Eu me sentia como um mártir. Só gostava de fazer coisas que não eram permitidas na escola: desenhar e escrever."
Seus pais tinham a esperança de que ele se tornasse músico, mas Paul tinha outros planos. Dois meses depois do exame de madureza, Paul deixou a sua cidade natal para estudar desenho em uma escola particular em Munique, na Alemanha.
A volta
Klee permaneceu quatro anos no exterior. Neste período, sua vida mudou radicalmente. Ele concluiu seus estudos de Belas Artes, conheceu aquela que seria sua futura esposa, noivou e viajou pela primeira vez para a Itália.
Em 1902, ele retornou a Berna, voltando a morar na casa de seus pais. Para se sustentar, ele dava concertos como violinista e escrevia crítica de peças de teatro para jornais. Também desenhava muito neste período.
Entre 1903 e 1905, Klee deu dois passos importantíssimos para o seu desenvolvimento artístico. Primeiro, ele passou a fazer estudos de gravura em cobre, criando um ciclo de 11 gravuras.
Segundo, ele desenvolveu uma nova técnica, na qual desenhava com agulha sobre um pedaço de vidro preto de fuligem. Com esta técnica ele realizou quase 60 desenhos.
Um ano mais tarde, Klee deixava a Suíça pela segunda vez. Casa-se com a pianista Lily Stumpf, alemã de Munique, e passa a viver com ela na capital da Baviera.
Mas ele nunca abandonou Berna completamente. Depois do nascimento de seu filho Felix, em 1907, Klee passava vários meses por ano com o filho na casa de seus pais, enquanto Lily dava aulas de piano em Munique, para ajudar no sustento da família.
As cartas de Paul deste período mostram que ele gostava de estar em Berna. Seus pais cuidavam do pequeno Felix, e assim ele conseguia se dedicar inteiramente ao trabalho.
Outra volta ao lar
Depois de quase 30 anos no exterior, Klee retorna à Suíça em dezembro de 1933, mas desta vez não exatamente de livre e espontânea vontade. Os nazistas tinham assumido o poder na Alemanha e não havia mais futuro para Klee por lá.
Klee, que nessa época já era um artista de renome e ganhava bem com a venda de suas obras e seu salário de professor catedrático, passou, de uma hora para outra, a ser considerado indesejável na Alemanha.
Os nazistas o classificaram de „artista degenerado" e retiraram todas as suas obras dos acervos públicos da Alemanha. Paul e sua família fugiram para a casa dos seus pais, na Suíça.
Sem o ambiente artístico, a boemia e o estímulo intelectual a que estava acostumado, Klee sentia-se muito isolado na provinciana Berna.
Passados alguns meses, Klee e Lily mudaram-se para um apartamento na rua Kistlerweg, no arborizado bairro de Elfenau. Em dias de céu claro, eles podiam ver os picos dos Alpes da varanda de seu apartamento.
Uma sala do apartamento era chamada de „sala de música da Lily", outra de „ateliê de Paul". Nos poucos anos de vida que lhe restavam, Klee realizou, nesse apartamento, mais de 2700 obras.
Neste período, Klee tentou várias vezes obter a cidadania suíça, mas sempre em vão. Na primeira vez que a cidadania lhe foi negada, alegaram que ele não satisfazia os critérios de permissão de domicílio. Ele não chegou a ver o fim do segundo processo de naturalização.
Doença e Morte
Problemas de saúde somavam-se ao seu sentimento de isolamento. Com fortes dores de estômago, Klee perdia muito peso e sofria de dermatosclerose, uma doença das fibras colágenas da derme que endurece a pele e reduz a sua flexibilidade e mobilidade. No final da vida, ele mal conseguia engolir os alimentos e sofria de incontinência uninária.
Os médicos da época não conseguiram diagnosticar a sua doença. Hoje sabe-se que Klee sofria de esclerodermia, uma doença auto-imune incurável.
Após o seu retorno a Berna, em 1933, Klee esteve internado em diversos sanatórios e veio a falecer a 29 de junho de 1940 em uma clínica em Locarno-Murano, no cantão do Ticino.
Com isso, o seu processo de naturalização, cuja audiência já estava marcada, caducou.
Sua mulher, Lily, conservou a urna com as cinzas de Klee no seu ateliê, no apartamento da rua Kistlerweg, até a sua morte, em 1946.
swissinfo, Faryal Mirza
tradução de Fabiana Macchi
quarta-feira, 20 de janeiro de 2010
segunda-feira, 18 de janeiro de 2010
Caravaggio, «Amor Victórious», 1602-3, por Isabel Rosete

Caravaggio (1571-1610), pintor italiano, foi um dos expoentes mais destacados da pintura do naturalismo barroco do começo do século XVII. Pintava soberanamente e com a especificidade dos seus traços, sobretudo as diagonais agudas que se entrechocam, louvava a vida que procurava com fúria, insubmissão e a consciência do transitório de tudo no universo.
Essa consciência de que tudo passa, arde e se transforma, nunca o abandonou. Um ser típico da sua época repleta de contrastes, Caravaggio oscilava entre os temas mundanos ou pagãos e o mundo dos anjos e dos santos, de um Cristo humano e pungente, como pode ser visto em “A Ceia em Emaús” ou “A Deposição de Cristo”.
O seu estilo caracteriza-se por um naturalismo quase insolente, voltado contra a tradição idealista do Renascimento italiano, à qual juntou um estranho jogo de claro/escuro a que foi dado o nome de «tenebrismo». Ainda assim, foi um dos mais notáveis e profícuos pintores de cenas bíblicas e mitológicas. O Anjo representado nesta pintura, «Amor Victórious», de asas abertas e em movimento sobre o violino, surge-nos como uma exemplificação da harmonia divina da música, a arte das Musas e dos deuses, que tudo inebria e torna sereno, numa eterna busca de um outro estado de espírito que leva e eleva a humanidade ao enaltecimento da sua interioridade espiritual.
Isabel Rosete
quinta-feira, 7 de janeiro de 2010
A letargia crítica na feira do vale-tudo da arte
"A arte se integrou ao círculo da banalidade." (Jean Baudrillard)
Agora temos formado no Brasil um verdadeiro trio de espadachins que não aceita de forma cega e subserviente os ditames dos sistemas mercantis que legitimam muito do que é a arte contemporânea. Além do genial poeta Ferreira Gullar (um crítico meio intempestivo) e Affonso Romano de Sant'Anna, podemos contar com a reflexão do jornalista Luciano Trigo, cuja obra A grande feira: uma reação ao vale-tudo da arte contemporânea (Civilização Brasileira, 2009, 240 págs.) foi publicada em 2009 pela editora Record.
A publicação da obra de Trigo é muito bem-vinda num panorama em que a crítica parece ter perdido o sentido e em que as consciências têm mantido sua sonolência a preços que muitas vezes são escusos.
Causa espanto a ausência de um debate intelectual referente às artes plásticas no Brasil, debate que as outras áreas da cultura e outros países jamais abririam mão. Só para dar dois exemplos de obras publicadas na frança, veja-se La crise de l'art contemporain, de Yves Michaud e La querelle de l'art contemporain, de Marc Jimenez. Estas obras tornaram-se referência no debate quente sobre a relação entre arte contemporânea e mercado.
O livro de Trigo comenta o resultado pernicioso que a "falência da crítica" e a ausência de debate proporcionam: um aglomerado de pseudo-obras de arte estão sendo incondicionalmente aceitas por todos, independentemente de seu valor, mas legitimadas por marchands, galeristas e acionistas, além de serem agraciadas por críticos de arte que não conseguem senão adular o espetáculo/imbróglio comercial no qual a grande parte da produção de arte se envolveu e da qual se tornou prisioneira.
Nos faz temer pelo "estado das coisas" uma cultura que não suporta as dissidências, pois no fundo é isso que se abole anulando a crítica. Estruturas totalitárias são avessas à crítica, como sabemos. Que o livro de Trigo nos tire desta pasmaceira perigosa onde nos acomodamos.
A obra de Trigo não é só mais um libelo reacionário contrário às inovações da arte contemporânea. Não se trata disso e talvez até por se esperar isso dele, o seu trabalho acabe não sendo tão lido como deveria ser. O que o autor discute é basicamente as especificidades de uma arte submissa aos ditames mercadológicos, aos interesses de acionistas (alguns travestidos de marchands e outros de galeristas) e a consequente sensação de vale-tudo (nem tudo, claro, apenas o que o mercado determina) que tomou conta da produção artística nas últimas décadas. No fundo, ele teme pela arte e pelo artista, por isso não deixa de enfrentar o sistema que transforma muitas vezes a falta de talento em arte/mercadoria altamente cotada nas Sotherby's e Christie's da vida.
Numa das sentenças do livro Trigo diz: "A importância da arte de Damien Hirst está no fato de que ela cria dinheiro, e somente isso. Sem dinheiro, acabou o seu valor artístico, porque é o dinheiro que lhe confere valor artístico". Todo o livro parte da ideia central de uma crítica a este sistema econômico gerador de "estrelas" no mundo da arte contemporânea, valorizados mais por sua aceitação no mercado de dólares do que por sua significação num sistema de crítica e pensamento sobre a arte.
As relações entre poder econômico e sistema artístico no Brasil é notável. Como disse Jorge Coli em artigo publicado no caderno "Mais!" da Folha de São Paulo, no dia 9 de novembro de 2008 [acesso restrito para assinantes]: "Um problema de certas instituições brasileiras voltadas para a arte e para a cultura é que se acham nas mãos de ricaços. Nos EUA, contribuições vão para o MoMA ou a Metropolitan Opera. Uma direção especializada decide o destino das verbas. Aqui, quem tem dinheiro mete o bedelho. Os resultados são desastrosos. Sem contar a frequência com que dinheirama e falcatrua se tornam sócias. Ilustração evidente, o caso de Edemar Cid Ferreira. Chegou a ser mais poderoso do que o ministro da Cultura no Brasil e acabou na cadeia. Edemar Cid Ferreira vivia circundado por uma corte de intelectuais que se agitava ao seu serviço. Que se escafedeu ao sentir o cheiro de queimado".
Pior talvez que o próprio sistema é a posição conivente que os artistas tomam em relação a ele. Este sistema dominado pelo desejo de sucesso, prestígio midiático (e imediato) e busca por aceitação no mercado lucrativo tem alterado o desejo dos artistas, que antes pensavam na sua obra como resultado de uma vivência significativa, mas agora estão no mais das vezes apenas interessados nos resultados comerciais de seu empreendimento.
Segundo Fernando Boppré, "a produção dos artistas têm buscado apenas a aceitação do trabalho em algum salão, exposição ou acervo. As obras, agora, só funcionam dentro da teia-aquário-cripta. Porém, mesmo ali, ordinariamente, não passam de cadáveres: servem à medida que participam do ritual/velório. Quem não conhece o defunto, pouco se afetará diante da cena. Há algo de patético e desnecessário em todo o velório".
Boppré comenta a situação em que o interesse mercadológico assume as rédeas da vida artística, ao referir-se à própria terminologia contemporânea que substitui o conceito de obra de arte por outro: "Trabalho é o termo ordinariamente utilizado na arte contemporânea para dar conta daquilo que outrora se chamava 'obra de arte'. O artista, este ser injustiçado por excelência, que há algum tempo se lamentava acerca da incompreensão em relação aos seus sentimentos, agora está aos prantos ao perceber-se excluído do mercado".
Dentro desse quadro, o livro de Trigo oferece boas análises das situações em que o mercado dita o valor das obras, apontando exemplos onde essa relação é bastante clara, nomeando artistas e transações econômicas bastante suspeitas entre investidores, galeristas e artistas.
Seu diagnóstico é claro: "passamos de uma época em que a arte dependia de um reconhecimento crítico fundamentado para outra, em que depende de uma designação e de um reconhecimento do mercado. (...) O pensamento único do mercado substituiu o jogo das opiniões e julgamentos que dominava o valor da arte".
Eu não poderia deixar de citar o núcleo central do debate proposto por Trigo, que é o de desmontar o paradoxo máximo da arte contemporânea: a apropriação de sua autonomia sendo usada da forma mais perversa e anticrítica que jamais houve na história da arte: "o sistema da arte contemporânea se baseia na manipulação de um paradoxo fundamental: ele se apropria da ideia de que a arte pode valer muito por ser irredutível, justamente, à mercantilização, para elevar os preços da obra de arte às alturas; mas, ao mesmo tempo, desqualifica todos os valores que eram associados a essa irredutibilidade, como a unidade, a autenticidade, o gesto criador. Em outras palavras, usa o mito da autonomia da arte em relação à cultura de massa e à indústria cultural como justificativa para levar sua comercialização a extremos nunca vistos".
E o pior, acrescenta Trigo, "sob o argumento de que a arte não precisa prestar contas a ninguém, o sistema se torna imune a qualquer crítica ― e continua a prosperar".
Para não ficar no plano abstrato da crítica, Trigo cita, além de outros, o artista americano Jeff Kons, uma espécie de artista midiático que produziu cachorros e coelhos infláveis em esculturas de aço de 16 metros de altura e ainda fotografias e esculturas pornô-kitsch com imagens de sua vida sexual com a atriz pornô Cicciolina. Para esse artista, Trigo reserva a ideia de "moedeiro falso" e "prostituto da banalidade", revelando a antiga profissão de Koons: corretor de valores em Wall Street. Citando, finalmente, a observação de James Gardner, autor do livro Cultura ou lixo?, que diz que a obra de Koons não passa de "uma brincadeira marota que, embora faça rir, está condenada ao esquecimento", por sua insignificância artística.
Nesse sentido, podemos pensar numa aproximação entre essa arte do kitsch que se multiplica por aí nos termos de Clement Greenberg. Para ele, o encorajamento do kitsch é uma das formas não onerosas pelas quais os regimes totalitários buscam ganhar a simpatia de seus subordinados. Impossibilitados de elevar o nível cultural das massas, eles adulam as massas rebaixando a cultura para seu nível, diz o crítico americano.
Trigo também cita o caso do trote produzido pelo escritor inglês William Boyd, que escreveu a biografia de um artista que jamais existiu, que teria se matado por afogamento aos 31 anos depois de visitar Georges Braque e ter descoberto a verdadeira arte. Boyd chegou a produzir debates entre críticos sobre o referido personagem inexistente; estes críticos, inclusive, confirmavam conhecer o artista quanto eram interpelados por jornalistas a respeito da sua obra.
O texto de Trigo nos faz pensar. E principalmente nos faz pensar até que ponto muito do que circula por aí se autodenomimando e sendo chamada de obra de arte não passa de "signos portadores de valor financeiro". E nada mais que isso.
A arapuca está armada. Quem ousa desarmá-la?
Nota do Editor
Leia também "Por que a crítica, hoje, não é bem-vinda", "A garganta da reclamação" e o Especial "Arte".
Fonte: "Digestivo Cultural" (05/01/2010)
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação
Agora temos formado no Brasil um verdadeiro trio de espadachins que não aceita de forma cega e subserviente os ditames dos sistemas mercantis que legitimam muito do que é a arte contemporânea. Além do genial poeta Ferreira Gullar (um crítico meio intempestivo) e Affonso Romano de Sant'Anna, podemos contar com a reflexão do jornalista Luciano Trigo, cuja obra A grande feira: uma reação ao vale-tudo da arte contemporânea (Civilização Brasileira, 2009, 240 págs.) foi publicada em 2009 pela editora Record.
A publicação da obra de Trigo é muito bem-vinda num panorama em que a crítica parece ter perdido o sentido e em que as consciências têm mantido sua sonolência a preços que muitas vezes são escusos.
Causa espanto a ausência de um debate intelectual referente às artes plásticas no Brasil, debate que as outras áreas da cultura e outros países jamais abririam mão. Só para dar dois exemplos de obras publicadas na frança, veja-se La crise de l'art contemporain, de Yves Michaud e La querelle de l'art contemporain, de Marc Jimenez. Estas obras tornaram-se referência no debate quente sobre a relação entre arte contemporânea e mercado.
O livro de Trigo comenta o resultado pernicioso que a "falência da crítica" e a ausência de debate proporcionam: um aglomerado de pseudo-obras de arte estão sendo incondicionalmente aceitas por todos, independentemente de seu valor, mas legitimadas por marchands, galeristas e acionistas, além de serem agraciadas por críticos de arte que não conseguem senão adular o espetáculo/imbróglio comercial no qual a grande parte da produção de arte se envolveu e da qual se tornou prisioneira.
Nos faz temer pelo "estado das coisas" uma cultura que não suporta as dissidências, pois no fundo é isso que se abole anulando a crítica. Estruturas totalitárias são avessas à crítica, como sabemos. Que o livro de Trigo nos tire desta pasmaceira perigosa onde nos acomodamos.
A obra de Trigo não é só mais um libelo reacionário contrário às inovações da arte contemporânea. Não se trata disso e talvez até por se esperar isso dele, o seu trabalho acabe não sendo tão lido como deveria ser. O que o autor discute é basicamente as especificidades de uma arte submissa aos ditames mercadológicos, aos interesses de acionistas (alguns travestidos de marchands e outros de galeristas) e a consequente sensação de vale-tudo (nem tudo, claro, apenas o que o mercado determina) que tomou conta da produção artística nas últimas décadas. No fundo, ele teme pela arte e pelo artista, por isso não deixa de enfrentar o sistema que transforma muitas vezes a falta de talento em arte/mercadoria altamente cotada nas Sotherby's e Christie's da vida.
Numa das sentenças do livro Trigo diz: "A importância da arte de Damien Hirst está no fato de que ela cria dinheiro, e somente isso. Sem dinheiro, acabou o seu valor artístico, porque é o dinheiro que lhe confere valor artístico". Todo o livro parte da ideia central de uma crítica a este sistema econômico gerador de "estrelas" no mundo da arte contemporânea, valorizados mais por sua aceitação no mercado de dólares do que por sua significação num sistema de crítica e pensamento sobre a arte.
As relações entre poder econômico e sistema artístico no Brasil é notável. Como disse Jorge Coli em artigo publicado no caderno "Mais!" da Folha de São Paulo, no dia 9 de novembro de 2008 [acesso restrito para assinantes]: "Um problema de certas instituições brasileiras voltadas para a arte e para a cultura é que se acham nas mãos de ricaços. Nos EUA, contribuições vão para o MoMA ou a Metropolitan Opera. Uma direção especializada decide o destino das verbas. Aqui, quem tem dinheiro mete o bedelho. Os resultados são desastrosos. Sem contar a frequência com que dinheirama e falcatrua se tornam sócias. Ilustração evidente, o caso de Edemar Cid Ferreira. Chegou a ser mais poderoso do que o ministro da Cultura no Brasil e acabou na cadeia. Edemar Cid Ferreira vivia circundado por uma corte de intelectuais que se agitava ao seu serviço. Que se escafedeu ao sentir o cheiro de queimado".
Pior talvez que o próprio sistema é a posição conivente que os artistas tomam em relação a ele. Este sistema dominado pelo desejo de sucesso, prestígio midiático (e imediato) e busca por aceitação no mercado lucrativo tem alterado o desejo dos artistas, que antes pensavam na sua obra como resultado de uma vivência significativa, mas agora estão no mais das vezes apenas interessados nos resultados comerciais de seu empreendimento.
Segundo Fernando Boppré, "a produção dos artistas têm buscado apenas a aceitação do trabalho em algum salão, exposição ou acervo. As obras, agora, só funcionam dentro da teia-aquário-cripta. Porém, mesmo ali, ordinariamente, não passam de cadáveres: servem à medida que participam do ritual/velório. Quem não conhece o defunto, pouco se afetará diante da cena. Há algo de patético e desnecessário em todo o velório".
Boppré comenta a situação em que o interesse mercadológico assume as rédeas da vida artística, ao referir-se à própria terminologia contemporânea que substitui o conceito de obra de arte por outro: "Trabalho é o termo ordinariamente utilizado na arte contemporânea para dar conta daquilo que outrora se chamava 'obra de arte'. O artista, este ser injustiçado por excelência, que há algum tempo se lamentava acerca da incompreensão em relação aos seus sentimentos, agora está aos prantos ao perceber-se excluído do mercado".
Dentro desse quadro, o livro de Trigo oferece boas análises das situações em que o mercado dita o valor das obras, apontando exemplos onde essa relação é bastante clara, nomeando artistas e transações econômicas bastante suspeitas entre investidores, galeristas e artistas.
Seu diagnóstico é claro: "passamos de uma época em que a arte dependia de um reconhecimento crítico fundamentado para outra, em que depende de uma designação e de um reconhecimento do mercado. (...) O pensamento único do mercado substituiu o jogo das opiniões e julgamentos que dominava o valor da arte".
Eu não poderia deixar de citar o núcleo central do debate proposto por Trigo, que é o de desmontar o paradoxo máximo da arte contemporânea: a apropriação de sua autonomia sendo usada da forma mais perversa e anticrítica que jamais houve na história da arte: "o sistema da arte contemporânea se baseia na manipulação de um paradoxo fundamental: ele se apropria da ideia de que a arte pode valer muito por ser irredutível, justamente, à mercantilização, para elevar os preços da obra de arte às alturas; mas, ao mesmo tempo, desqualifica todos os valores que eram associados a essa irredutibilidade, como a unidade, a autenticidade, o gesto criador. Em outras palavras, usa o mito da autonomia da arte em relação à cultura de massa e à indústria cultural como justificativa para levar sua comercialização a extremos nunca vistos".
E o pior, acrescenta Trigo, "sob o argumento de que a arte não precisa prestar contas a ninguém, o sistema se torna imune a qualquer crítica ― e continua a prosperar".
Para não ficar no plano abstrato da crítica, Trigo cita, além de outros, o artista americano Jeff Kons, uma espécie de artista midiático que produziu cachorros e coelhos infláveis em esculturas de aço de 16 metros de altura e ainda fotografias e esculturas pornô-kitsch com imagens de sua vida sexual com a atriz pornô Cicciolina. Para esse artista, Trigo reserva a ideia de "moedeiro falso" e "prostituto da banalidade", revelando a antiga profissão de Koons: corretor de valores em Wall Street. Citando, finalmente, a observação de James Gardner, autor do livro Cultura ou lixo?, que diz que a obra de Koons não passa de "uma brincadeira marota que, embora faça rir, está condenada ao esquecimento", por sua insignificância artística.
Nesse sentido, podemos pensar numa aproximação entre essa arte do kitsch que se multiplica por aí nos termos de Clement Greenberg. Para ele, o encorajamento do kitsch é uma das formas não onerosas pelas quais os regimes totalitários buscam ganhar a simpatia de seus subordinados. Impossibilitados de elevar o nível cultural das massas, eles adulam as massas rebaixando a cultura para seu nível, diz o crítico americano.
Trigo também cita o caso do trote produzido pelo escritor inglês William Boyd, que escreveu a biografia de um artista que jamais existiu, que teria se matado por afogamento aos 31 anos depois de visitar Georges Braque e ter descoberto a verdadeira arte. Boyd chegou a produzir debates entre críticos sobre o referido personagem inexistente; estes críticos, inclusive, confirmavam conhecer o artista quanto eram interpelados por jornalistas a respeito da sua obra.
O texto de Trigo nos faz pensar. E principalmente nos faz pensar até que ponto muito do que circula por aí se autodenomimando e sendo chamada de obra de arte não passa de "signos portadores de valor financeiro". E nada mais que isso.
A arapuca está armada. Quem ousa desarmá-la?
Nota do Editor
Leia também "Por que a crítica, hoje, não é bem-vinda", "A garganta da reclamação" e o Especial "Arte".
Fonte: "Digestivo Cultural" (05/01/2010)
Isabel Rosete - pesquisa e divulgação